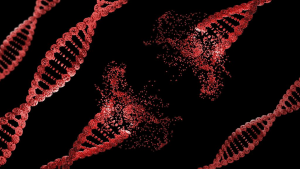Monica e Marielle tinham planos de se casar em 2019 e cogitavam a hipótese de um filho (foto: Marcus Faustini)
Como a morte de Marielle Franco mudou nossas vidas
Antonia Pellegrino*
Publicado pelo portal Piauí, em abril de 2018

Faz um ano que eu entrei em uma sala de cinema com Marcelo Freixo. Estávamos nos conhecendo de novo, e pela primeira vez. Desde sua campanha à Prefeitura do Rio em 2012, a gente se cruzava em atos, eventos e reuniões. Até uma noite de Carnaval mudar a forma como sempre nos olhamos.
Era assunto entre nossos amigos o filme Eu Não Sou Seu Negro. E naquele entardecer abafado de março, sua escolta nos deixou na porta da pequena sala gelada da Candido Mendes, em Ipanema. À medida que a projeção narrava, nas palavras do escritor James Baldwin, a morte de líderes negros em luta pelos direitos humanos, minha voz sumiu. Era como se o destino falasse comigo.
Um ano depois, o que havia de trágico no filme se impôs. Na noite de 14 de março eu estava no meu quarto, recostada numa poltrona, com minha filha no colo e as pernas esticadas sobre o colo do Marcelo. Falávamos sobre as eleições de 2018 e a decisão que seria anunciada na semana seguinte: Marielle Franco seria candidata à vice-governadora pelo partido deles, o PSOL.
Desde a primeira noite em que dormimos juntos, Marcelo me avisou que nunca desliga o telefone. “Rebelião em presídio não tem hora”, justificou ele. Eram nove e meia da noite quando o telefone dele apitou como um grilo. A tela escura do iPhone vibrou com o nome Arlei. “É o chefe de gabinete da Mari”, ele disse, sem atender. Um segundo depois, Arlei. Havia urgência no toque. “Atende, aconteceu alguma coisa”, eu disse.
O pranto agônico de Arlei inviabilizava a comunicação. Coloquei minha filha na cama e liguei a televisão baixinho. Me aproximei do Marcelo e do telefone para tentar ouvir. Arlei balbuciava que havia acontecido alguma coisa. Um assalto, um tiroteio, ninguém sabia direito. Mas Marielle, uma assessora e o motorista estavam no carro alvejado.
A primeira pessoa para quem Marcelo ligou naquela noite foi o novo chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Depois houve outro telefonema para Arlei, em que Marcelo perguntava de uma forma que só quem é íntimo da morte tem coragem: “Mas mataram a Mari? Ela está morta?”
Doze anos atrás Marcelo perdeu um irmão assassinado pela milícia, alvejado por alguém em uma moto que emparelhou com o carro dele, perto do prédio onde morava. Cotidianamente, Marcelo recebe na Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro o refugo da guerra às drogas: familiares de policiais mortos, mulheres vítimas de estupro coletivo, ativistas ameaçados, mães destroçadas por tiros de fuzil. Como 80% dos homicídios no Brasil, o do irmão do Marcelo nunca foi esclarecido e julgado. Ele sente saudades, e a gente sabe que essa saudade não passa.
Sua luta por justiça acontece na institucionalidade. No trabalho de parlamentar, na comissão ou em CPIs, como a das milícias. Graças a esta CPIs, faz uma década que Marcelo convive com ameaças, seguranças e carro blindado. Naquela manhã de 14 de março, havia saído uma reportagem sobre os dez anos da CPI. E ele me encaminhou o link junto com um áudio explicando que pedira ao jornalista para não centrar a narrativa nele, porque queria ter uma vida mais normal comigo. Seus olhos estavam esgazeados quando ele desligou o telefone, dizendo: “Mataram a Marielle.”
Às 22h01, já na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu tentava digitar no Waze o endereço que mudaria as nossas vidas, quando o ativista Raull Santiago escreveu em um grupo de WhatsApp: “Gente. Pelo amor de Deus, alguém aí? Tudo bem no Rio???” Era um grupo do qual Marielle fazia parte. Uma pessoa perguntou: “Em que sentido?” Raull seguiu perguntando com pontos de interrogação cada vez mais numerosos: “Todos do nosso grupo estão bem?????” Comecei a digitar “ela foi…”, mas a palavra assassinada é brutal demais. Desesperado, Raull dizia que tinha recebido uma informação grave, que precisava confirmá-la porque podia ser trote. Eram 22h05 quando ele perguntou por Marielle. Eu respirei, segurei o telefone com alguma firmeza e fui até o fim: ela foi assassinada.
A rua Joaquim Palhares fica atrás do prédio da Prefeitura. É uma área pouco movimentada à noite. À sua direita, tem uma rua larga chamada João Paulo I. Naquela noite a rua com nome de papa estava iluminada pelas luzes vermelhas da sirene da polícia. Marcelo estacionou sua viatura, como ele chama, paralela ao Agile branco com o vidro estilhaçado. Atravessamos o asfalto vazio até cruzarmos a fita de contenção. Tive um pranto súbito ao ver o motorista morto com a cabeça caída e a boca aberta, e Marielle desabada com tiros na cabeça no banco de trás.
“Por que ela? Por que fizeram isso com a Mari? Eu não vou mais ver minha amiga”, eram as frases que Marcelo repetia abraçado a mim, numa vertigem de emoções que estaria apenas começando. “Por quê, meu Deus? Por que ela? A minha amiga… Ela era a nossa madrinha.”
Minha história com a Marielle começa em 2013 no apartamento do Jaílson e da Eliana Souza Silva, ambos lideranças na favela da Maré, onde ela nasceu e foi criada. Àquela época, Mari era casada com o então chefe de gabinete do Marcelo. Na minha memória ela usava os cabelos longos e alisados. Sempre foi grandona, exuberante e carismática. Tinha aquele sorriso de corpo inteiro que explodia na boca. Mas ainda não brilhava tanto. Sua cintilância veio com o empoderamento.
A partir dos últimos meses de 2015, o Brasil foi tomado, nas ruas e nas redes, pela onda feminista. E Marielle foi uma das que fez a onda acontecer. Clássica articuladora de atos e da militância, sua candidatura brotou do seu desejo de colorir o espaço legislativo e representar as negras, os favelados, as mulheres, os LGBT, as jovens, os militantes de direitos humanos. “Eu sou porque nós somos” era seu slogan de campanha, em cujo material impresso aparecia sua figura altiva de cabeleira crespa. Acho que nesta época a Mari ficou até mais alta, não sei se pelo salto ou pela postura que se abriu.
Nossos pés sempre pisaram em salas muito diferentes, embora tenhamos nos formado, em épocas distintas, no mesmo curso de ciências sociais da PUC-Rio. Eu sou uma filha do privilégio. E Marielle era cria da favela da Maré. Sendo quem eu não era, ela era o meu desejo de democracia para o Brasil. O melhor que nós temos como sociedade. Impossível não participar de sua campanha a vereadora. Estive presente em um dos seus primeiros comícios domésticos, na casa da mãe da minha amiga Lola Werneck. Saí de lá com a data para um comício na minha casa, a ser feito em dupla com Nilcea Freire, também candidata. Era o auge da polarização entre coxinhas e mortadelas, e eu convidei minha lista quase inteira de contatos. Sabia que muitos não iriam, mas boa parte sublinharia o nome de uma ou outra em suas anotações mentais.
Foi uma bela noite, de sala cheia. Depois, filmamos uma entrevista para a Mídia Ninja, na qual ela me contou sua história. Mari passou a colaborar com o #AgoraÉQueSãoElas, blog da Folha de S.Paulo que edito. E na noite em que o cometa Marielle Franco cruzou o céu da política carioca com seus mais de 46 mil votos, fui à Lapa comemorar. Nos abraçamos.
A história do Marcelo com a Marielle é de vida. De professor e aluna no pré-vestibular comunitário. De militância dela na primeira campanha dele a deputado estadual. De coordenadora da comissão por ele presidida. De cria política, de herdeira, de filha, de amiga. Suas muitas camadas de afeto e construção coletiva não cabem em poucas linhas. É uma história de amor. Onde o combinado sempre foi falar sobre todos os assuntos, mas nunca deixar de conversar sobre a vida pessoal.
Foi numa destas conversas, no início de 2017, que a Marielle disse: “Você devia namorar alguém tipo Antonia Pellegrino.” Semanas depois, na primeira madrugada de Carnaval, durante a concentração do bloco Amigos da Onça, quando Marcelo me viu, a frase da Marielle ecoou como um raio.
Agora ela já não fala mais. Seu corpo está inerte, embaixo de um plástico preto, estendido sobre a calçada. A polícia já isolou o carro, as cápsulas de bala, os estilhaços. Fomos removidos para a esquina, onde ninguém corre o risco de ver imagens fortes. Há espanto, medo e perplexidade nos olhos de quem chora nesta cena do crime. Uma execução política feita com pistola 9 milímetros e nenhuma ameaça. Um recado direto, enviado não se sabe por quem, mas que ameaça a todos.
Sentamos no meio-fio. Passo água na nuca do Marcelo, o abraço, beijo seu rosto. De repente, homens comemoram um gol. Logo ali, a vida seguia alheia. Marcelo levanta e segura a onda. De si e de todos. Conversa com a polícia, organiza com o vereador Tarcísio Motta como serão os velórios, providencia a ida da testemunha para a delegacia, fala com a imprensa. É abraçado pelos amigos, que desabam. E me fala que precisamos conversar em casa.
São duas da manhã quando o corpo é levado para o IML e não há mais o que fazer ali. Como naquela sessão de cinema, fico sem voz. Choro do Estácio até minha casa. Abro a porta do blindado com o pé e vou buscar uma bolsa com roupa. Sobre a minha cama, minha filha dorme. Sento ao lado dela, faço um carinho no rosto. Não quero que ela acorde e me veja coberta de lágrimas, mas é impossível sair de perto dela naquele momento. Ela é pura vida. Os limites do seu futuro estão sendo definidos pelo que aconteceu hoje. Ela abre os olhos, cheia de sono. Eu sou toda a desesperança do mundo. Faço carinho em seu rosto. Ela coloca o travesseiro entre as pernas, vira para o lado e volta a sonhar.
A imagem do carro alvejado com os cadáveres não desgruda da minha cabeça. Entendo e não entendo o que está acontecendo. Limpo o rosto. Respiro. E pela primeira vez naquela noite, entro nas redes sociais. Não era só a gente que não dormia. Uma convulsão devorava as timelines. Marielle começava a ressuscitar.
No apartamento do Marcelo, o gás do banheiro não funciona. Depois do horror, o banho gelado. A água cai sobre minhas costas, quando ele diz: “Eu sei que você me ama, mas eu entendo se você quiser se separar. Você não precisa viver comigo.” Sabemos sobre o que ele fala. Só no ano retrasado, um defensor de direitos humanos morreu no Brasil a cada cinco dias; ao todo, foram 66 vítimas. Boa parte delas são pessoas que, como a Marielle e o Marcelo, nasceram nas periferias e não tiveram outra opção senão lutar. Pelo mínimo: ser tratados como gente e ter direitos. Mas o mínimo, no Brasil, é excesso de ousadia.
Às seis da manhã o celular começa a tocar. São jornalistas dos programas de rádio de todo o país, jornalistas da grande mídia, jornalistas do periódico estudantil de uma cidade obscura, jornalistas. Todos querem saber quem matou Marielle, como se Marcelo fosse da polícia. Todos querem saber qual a linha de investigação, como se isso pudesse ser dito. Algumas pessoas completamente sem noção também ligam, mas ele não atende. Sem noção absoluta, elas insistem duas, três vezes. Cato o telefone e começo a filtrar as ligações com o que me resta de voz.
Na frente do prédio da Polícia Civil, no Centro do Rio, eu desço do carro na manhã do dia 15 de março e me lembro de ter encontrado a Mari naquela esquina, distribuindo os leques da sua campanha Carnaval Sem Assédio. Agora estamos ali para cobrar o esclarecimento da morte dela e do motorista Anderson Pedro Gomes.
Músculos, ternos e homens com um distintivo pendurado no pescoço. Essa é a paisagem da sala do chefe da Polícia Civil, amigo de longa data do Marcelo. Eles conversam sobre como as pessoas pensam que defensores de direitos humanos e policiais não dialogam. Marcelo observa que, no Brasil, trabalhar com direitos humanos é trabalhar com homicídio. “Meus amigos na Europa não vivem assim”, diz ele. E completa: “Essa execução política abre um novo campo de disputa civilizatória: entre a barbárie e a democracia. A linha que divide estes dois campos está sobre o corpo da Mari: são os direitos humanos.”
Vou ao banheiro da vice-diretora da Polícia Civil e, pela primeira vez depois de horas, me olho no espelho. Não me reconheço no olhar aflito, a cara pálida, as olheiras e o cabelo desgrenhado muito além do normal. O teto do mundo ficou mais baixo de um dia para o outro. Dou um jeito no cabelo. Mando mensagem para amigas pedindo uns óculos escuros. Uso a maquiagem da vice-diretora para recuperar alguma dignidade. De volta à sala de reunião, a imprensa já está organizada para o pronunciamento das autoridades. Eles garantem que o crime não vai ficar impune. Não vai. Saio dali com os telefones de quatro delegados registrados no celular. Em que momento eu cruzei essa linha de onde já não é mais possível voltar atrás?
Ainda é de manhã, mas a bateria do telefone já precisa ser recarregada. As mensagens não param de chegar, por todos os inboxes possíveis. Na rede, um paiol de Marielles explodiu. O carro estaciona na lateral da Câmara dos Vereadores. Vamos de mãos dadas entre as pessoas, em direção à Sala Inglesa onde nossos amigos aguardam os caixões de Marielle e Anderson para o velório. Nas paredes da entrada da Câmara, há três painéis de pastilhas coloridas que mostram imagens de um Brasil da inocência: um homem pescando, um homem na lavra, uma lenha sendo cortada. Depois da noite passada, tudo isso ficou para trás.
A Sala Inglesa é ampla e toda forrada com madeira escura. Lá estão aqueles que quem matou a Marielle deve chamar de feminazis, preto imundo, mulher que pensa que é homem, veado, favelado, mulher que beija mulher, essa gente toda errada que ousa dizer que as desigualdades brasileiras não são normais. Novamente a espiral de soluços, e por quê, meu Deus, por que a Mari? O horror percebe onde há força, e ataca. O recado inequívoco passado na execução instaura o medo. A rajada que assassinou a Marielle e o Anderson atinge em cheio as muitas mulheres negras que trabalham em seu gabinete e outras tantas parceiras de militância. Atinge a força motriz dos mais velhos, com décadas de vida dedicadas à segurança pública e aos direitos humanos. Atinge a todos. Para ninguém cair, os corpos chacoalham nos abraços e o desespero encontra algum abrigo.
Monica Benício, companheira da Marielle, chega com um vestido longo e branco sobre o corpo trêmulo. Marcelo a abraça. Coloco as mãos nas costas dele, nas costas dela. Somos uma rede de acolhimento. Na nuca dela, o cabelo revela a tatuagem: amor fati. Duas palavras, uma ode de amor ao destino, um pacto de aceitação integral da vida com seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Em que momento ela anteviu seu fado e respondeu na pele?
Marcelo me conduz pela mão e vamos caminhando com passos rápidos entre a multidão, até entrarmos em outra sala, onde a gravidade é mais intensa. É a sala onde estão os familiares. A mãe, Marinete da Silva, é uma senhora bonita, de expressão forte, com os mesmo traços da filha morta. Aos 66 anos, ela passa as mãos de dedos longos e unhas bem-feitas sobre o rosto, incrédula. Sentada em uma cadeira, diz que nunca quis que a filha entrasse para a política. Do outro lado, Luyara Santos, a filha de 19 anos, com a cara redonda de criança e aparelho fixo nos dentes, grita num lamento sentido: “Eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe de volta.” “Tiraram um pedaço de mim”, repete a mãe. “Eu quero um abraço da minha mamãe”, diz a filha. Sobre a enorme mesa de jacarandá, na cabeceira mais distante, vejo um bebê negro deitado com as pernas gordinhas para cima, prestes a ser amamentado pela mãe que tira o peito para fora. De onde eu venho, a gente não tem amigos assassinados e acha que “gente é pra brilhar”, como dizem os versos da canção. De onde a Marielle, o Anderson e provavelmente aquele bebê vêm, todas as tias já limparam sangue da calçada. Metade dos amigos do Marcelo está morta. A outra metade virou pastor, traficante ou professor. A cidade onde todos nós vivemos é disfuncional. O Rio concentra mais armamento pesado que um país em guerra e tem dois aplicativos que avisam onde há tiroteio. Aqui, preto é cor de elemento suspeito, e elemento suspeito tem 23,5% mais chance de morrer jovem, porque a gente elimina.
“Os corpos estão chegando”, nos avisam. Não tenho ideia de que horas são quando descemos as escadarias do Palácio Tiradentes em direção à rua. Faz sol e uma multidão está lá fora, ocupando a praça da Cinelândia. O burburinho dá lugar a um silêncio solene enquanto o Marcelo atravessa o espaço aberto para a passagem dos caixões. Vamos até onde aguardam os outros deputados e vereadores do partido da Marielle. A comoção é geral.
Sem comer há muitas horas, vou ao pipoqueiro, peço uma pipoca salgada, enquanto tomo um Guaravita com gosto de chiclete. Um helicóptero sobrevoa a praça. O som da hélice lança uma urgência estável que aumenta a angústia. É aqui que ouço pela primeira vez uma mulher gritar no microfone: “Marielle!” E a multidão responder: “Presente!”
A brutalidade da sua ausência me leva aos prantos enquanto cato centavos na carteira. Choro por trás dos óculos escuros, me forçando a comer pipoca, enquanto observo as centenas de pessoas que pararam suas vidas para estar ali. São muitas mulheres, mulheres negras, mulheres negras lésbicas, mulheres negras de favela, mulheres brancas trans, homens negros, jovens de favela, são muitas Marielles no desejo de cada uma daquelas centenas de pessoas que ocupam e choram e fazem unidas o seu luto em praça pública.
“Há instantes privilegiados em que um destino pessoal se dissolve no movimento da história. Nesses instantes, a formidável alquimia da história faz refulgir, com luz imperecível, o destino no qual toca”, escreveu meu avô, Hélio Pellegrino, sobre a morte do estudante Edson Luís, cujo velório aconteceu neste mesmo palácio, há exatos cinquenta anos, no mês de março. Mas estas palavras também poderiam ter sido escritas para Marielle.
Um segurança me segue entre as pessoas até o Marcelo. Vejo os carros da funerária se aproximando. A gente se olha nos olhos. Toda a descarga emocional até aqui foi uma preparação para o que ainda virá. Quando os veículos encostam onde estamos, me vejo entre o grupo de mulheres que vai levar o caixão de Marielle, com o Marcelo e David Miranda à frente, segurando a parte mais pesada do corpo, a cabeça. No momento em que o porta-malas é aberto e o caixão fechado começa a ser retirado toda a espécie de firmeza que consegui manter se esvai pelas minhas pernas trêmulas.
Minha mão direita segura a alça dourada do caixão. Dai-me força, dai-me força é o mantra que me vem. Mantenho a mão firme e o resto do corpo é tomado por um pranto incontrolável. Começamos a andar com pequenos passos para que todos possam se despedir, inclusive nós. Olho ao redor e vejo desespero, bocas abertas, um choro que faz o corpo arquear. Falta ar naquela praça aberta cujo silêncio dolorido é atravessado pela rajada do helicóptero. Estamos todos com um espinho enfiado na carne.
Depois que atravessamos as escadarias e os corredores de volta ao Palácio Tiradentes, finalmente deixamos o caixão sobre o apoio, onde a família pode velar o corpo. Anielle Silva, a irmã de Marielle, é a pessoa da família que consegue se manter mais inteira e ancorar minimamente os seus. Há sempre alguém que assume este papel. E ela o desempenha como uma leoa.
Peço ao Marcelo para sairmos dali. Estou completamente esgotada. Vamos descendo e encontramos Alenice, a mãe dele. Uma senhora de 77 anos, que acabou de enterrar o marido da vida toda, mas cruzou as águas da Baía da Guanabara numa barca porque queria abraçar a mãe da Marielle. Fico num sofá por alguns minutos enquanto eles somem de volta ao velório. Apago num sono profundo que deve ter durado quinze minutos e, quando acordo, Alenice está sentada perto de mim, chorando. Ela diz, com voz mansa: “Eu sei o que a mãe dela está sentindo, eu também perdi um filho assim.” No Brasil, em 2016, 61 mil mães perderam filhos assassinados. As balas que mataram esses milhares de pessoas ficaram cravadas nos corações de seus familiares. Não foi uma ou duas vezes que vi o Marcelo dizer que a doença do pai dele foi fruto da tragédia que arrancou a vida de seu irmão.
Deixamos a mãe do Marcelo na barca e tentamos ir para o enterro, no Cemitério do Caju. O trânsito nos impede. Seguimos para o ato. Ainda não é luta, é luto. Está em nossas mãos morrer com a Marielle, ou ressuscitar com ela. Marielle era uma pessoa política, fruto da construção coletiva e do mérito. Fazia política com radicalidade, no melhor e mais nobre sentido da palavra. Mãe, negra, favelada, de axé, bissexual, feminista, de esquerda. Marielle era muitas, cabe em quase todos nós. Ela era a face luminosa dos excluídos da política, na política. Sua eleição foi uma das contundentes respostas ao “Não me representa” de 2013. Marielle era a renovação política brasileira encarnada. Daí brota seu enorme poder. Sua morte enche nossa esperança de balas. Sua morte enfiou tanto o espinho na carne que parece ter tirado o país da dormência. Sua morte nos comoveu, e nos moveu.
Até ontem os dias seguiam seu fluxo normal. Agora é possível tocar a fragilidade da vida com as mãos. Ainda é cedo para entendermos o quanto tudo mudou, mas houve um descarrilhamento. Nada vai voltar a ser como antes. Decido que não importa o tempo que tenhamos pela frente, quero que ele seja vivido ao lado do Marcelo. Sua presença amorosa, apaixonada, cuidadosa e cheia de luz me fez perceber que amar é ainda melhor que o amor. Estamos juntos há um ano, com aliança nos dedos há duas semanas. Decido que é hora de irmos morar juntos. O amor nunca vai deixar de ser uma resposta à brutalidade. E é disso que falamos quando, em todos os atos do país, unidos pelo luto, mas para dizer, eu luto, gritamos: Marielle presente, Marielle sempre.
* Antonia Pellegrino é escritora e roteirista de televisão e cinema


/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/v/d/I1u0AgRAmAxzWVAmJZUw/img-1178.jpg)